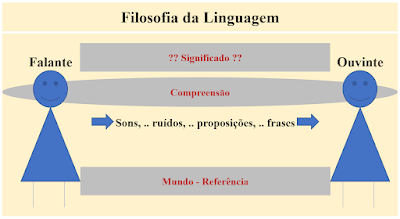Uma primeira passagem pela teoria dos atos
de fala e familiarização com o vocabulário [i]
A despeito das frases declarativas,
pelas quais afirmamos ou desejamos algo, Austin nos chama a atenção para a
elocução performativa, que nos permite executar um ato social. São os atos de
fala, como “Desculpe” ou “Dobro”, que seguem regras constitutivas, que devem
ser obedecidas e regras regulativas, que se não cumpridas levam a um ato
infeliz.
Na verdade, para Austin, toda
elocução tem um aspecto performativo (força ilocutória) e um conteúdo descritivo
ou proposicional. Originalmente, em 1961, ele considerou que frases
performativas não descrevem algo ou especificam um fato, ao contrário das
frases descritivas, verdadeiras ou falsas.
Ele inaugura a teoria dos atos de
fala que são atos sociais como, por exemplo, 1.) “Prometo pagar-lhe as fraldas”
e 2.) “Peço desculpas”. Aos proferi-los, estamos executando um ato, como
efetivamente prometendo algo ou simplesmente nos desculpando. Mas, 1.) é
declarativa, embora não descreva nada, não descreve alguém prometendo, já que
simplesmente prometemos. E não é passível de uma condição de verificação pois a elocução não parece ser verdadeira nem falsa. Ela é uma frase declarativa que é
factualmente defeituosa, mas que se entrega a outra finalidade.
Para testar a performatividade,
Austin criou o chamado critério “por este meio”, isto é, inserir a expressão
“por este meio” depois do verbo principal para sublinhar o ato em questão como,
exemplificando, em 1.) “Prometo por este meio pagar-te”, ato que se constitui
pela própria elocução do orador. No caso das constativas[ii], o ato de dizer não se
insere na frase como em 3.) “O gato está por este meio no tapete”.
Se, em geral, o critério permite
distinguir entre performativas e constativas, há frases que parecem ser ambas,
como 4.) “Declaro que nunca visitei um país comunista”. Aqui, o critério para
tê-la como performativa pode ser inserido pois tem-se um ato de fala declarativo.
Por outro lado, é descritiva pois declara um ato que pode ser verdadeiro ou
falso. Até mesmo a frase 1.) parece ser constativa pois assere que lhe
pagarei. Ora, conforme mostra Lycan, isso fez com que Austin percebesse que
quase toda elocução tem tanto o aspecto performativo quanto o constativo, qual
seja, uma asserção sempre é feita por um ato assertivo com força assertiva.
Há forças ilocutórias que podem ser
um juízo, um conselho ou um aviso. Por exemplo, 5.) “Seria muito estúpido comprar
mais ações nas Lojas Americanas” encobre o “O meu conselho é que seria muito
estúpido...”. Inclusive, uma mesma declarativa pode ter forças ilocutórias distintas
como pode ser visto no diálogo 6.) “Se não te despachas com isso, vou-me embora”
poderia ter a resposta 7.) “Isso é uma ameaça ou uma promessa?”.
Mesmo as não declarativas, como os
modos interrogativo e imperativo, trazem variações de força ilocutória, como: 8.)
“Vai no Calixto e pega uma Colorado”, que poderia ser uma diretiva, ordem ou
sugestão, variando com as intenções que se queiram ou com relações de poder. Por
aí, a distinção entre elocuções performativas e constativas passam a ser entre
força ilocutória e conteúdo locutório ou proposição em uma mesma elocução. Os
atos ilocutórios podem variar: autorizar, censurar, negar, inquirir, insistir,
perdoar, repreender, agradecer, etc.
Ocorre que, além da força ilocutória
e do conteúdo locutório, Austin introduz uma terceira característica das elocuções:
os atos perlocutórios. Eles são aqueles que, performativos, não passam no critério
“por este meio” porque dependem mais do efeito no ouvinte do que da intenção do
falante. Alguns deles são: espantar, enganar, distrair e irritar.
Lycan considera que o verificacionismo
e a teoria da verdade deixam de fora a força ilocutória por considerar somente o
conteúdo proposicional como significado, mas ele considera que a força é, sim, um
tipo de significado ilocutório indispensável para a linguagem.
Se os atos de fala são convencionais e
suas regras são costumeiramente implícitas no comportamento social normativo,
Searle as divide em constitutivas e regulativas. Regras regulativas regulam
comportamentos preexistentes como 9.) “Não mastigue com a boca aberta” e sua violação
não é tão grave, o resultado é que executa um ato infeliz, conforme a
terminologia de Austin. Ou proferir uma promessa sem a intenção de cumpri-la.
Por outro lado, as constitutivas definem novas formas de comportamento, como em
um jogo de xadrez 10.) “Os bispos só andam na diagonal” – o jogo não existiria
sem ela. Elas podem ser fortemente constitutivas se a sua inobservância impede o
ato de fala pretendido, como um clérigo que realiza o casamento de noivos que
não tem idade legal para casarem-se.
Embora possa haver casos de fronteira
nas regras propostas por Searle, Lycan argumenta que Austin se preocupou também
em mostrar casos infelizes de elocuções como quando ela é insincera, dita com a
voz muito baixa, sem tato, mal-educada ou prolixa. Lycan ressalta que a
falsidade é uma infelicidade que permeia os atos de fala de afirmação, asserção
e semelhantes, já que uma regra regulativa é que o que se diz é verdadeiro.
Entretanto, dirá Austin, não são falsas, mas infelizes, superando a postura verificacionista.
Isso posto, Lycan traz o problema de
Cohen, autor que argumenta ser tentador considerar que o significado (ou condição
de verdade) seria dado somente pela frase declarativa, enquanto a parte
performativa pudesse ser descartada. Porém, argumenta Cohen, o conteúdo
performativo também tem seus sentidos e referentes e não é meramente uma etiqueta
– eles têm significado locutório.
Extrapolando, Lycan traz exemplos nos
quais os prefácios performativos tem advérbios e são longos, como 11.) “Admito
sem coação que tive várias conversas em privado com o acusado”, 12.) “Admito
com relutância que tive várias conversas em privado com o acusado” – aqui "com
relutância" modifica “Admito”, a frase performativa. Poderíamos também ter 13.) “Como creio em Deus, admito que tive várias conversas em privado com o acusado” –
nesses casos há muita coisa sendo afirmada ou há fatos que poderiam estar na
frase performativa trazendo conteúdos locutórios. Esses exemplos mostram que
essa perspectiva tentadora deve ser superada por uma libertadora.
Ora, sob esse ponto de vista, os atos
de fala passam também a poder serem verdadeiros ou falsos e uma asserção como 14.)
“Parece-me que já encomendamos demasiadas peles de foca” teria dois conteúdos
locutórios e dois valores de verdade, sendo que o valor de verdade performativo
seria auto descritivo e quase sempre verdadeiro. Pois bem, no exemplo, “Admito sem
coação ...”, se tomarmos a perspectiva liberal, a admissão seria uma asserção,
retirando sua força ilocutória de jogar parte do significado, o conteúdo locutório,
para a declaração. Tomada como liberal, o “Admito sem coação...” poderia ser
falsa e a segunda frase “mantive conversas...” verdadeira.
Por fim, Lycan ressalta que uma
teoria dos atos de fala completa deveria lidar com esses fatos. Segundo ele, Alston
e Baker tentaram transformar a proposta de Austin em uma teoria do próprio significado
locutório, quase como uma teoria do uso, mas sem aprofundamento.
[i] Fichamento de Filosofia
da linguagem: uma introdução contemporânea. LYCAN, William. Tradução
Desiderio Murcho. Portugal: Edições 70, 2022. Capítulo 12: atos de fala e
força ilocutória.
[ii] Constativo: que apenas descreve um acontecimento, não implicando o cumprimento simultâneo, pelo locutor, da ação descrita nesse enunciado. Conforme infopédia.